David Soares já possuí uma carreira significativa enquanto escritor e autor de BD, área na qual já recebeu vários prémios. O seu último álbum, “Palmas Para o Esquilo”, está nomeado para 3 Prémios Nacionais de BD: Melhor Argumento, Melhor Álbum e Melhor Desenho (para Pedro Serpa). No âmbito do Amadora BD 2013 vai existir um exposição retrospectiva dedicada a David Soares, fruto do prémio de Melhor Argumento que recebeu em 2012 por “O Pequeno Deus Cego”.
É uma boa altura para colocar a conversa em dia com o David e abordar um carreira com mais de uma década de produção ininterrupta, em que criou um universo singular.
Chaka Sidyn: Como surgiu o teu interesse pela Banda Desenhada?
David Soares: O mérito é dos meus pais, porque tive a sorte de ter sido criado num ambiente bibliófilo. Lembro-me que recebia cerca de dois livros de banda desenhada por dia. Estou a falar de um período em que eu estava sempre em casa, porque ainda não tinha entrado para a escola, para o ensino básico. Passava horas a fio a olhar para esses livros, para as sequências, a imaginar o que se estaria a passar, o que se contava.
Eram livrinhos de banda desenhada com personagens Disney, mas outras, também, como a Luluzinha, o Riquinho, o Gasparzinho, o Brasinha, o Recruta Zero, o Pica-Pau, as personagens do Maurício de Sousa e as do universo de Hanna-Barbera, mais os livros do Petzi, que muito me fascinavam (adorava o pelicano Ricky, que tinha tudo e mais um par de botas dentro da bolsa).
[pullquote]Essas histórias eram o meu mundo, porque não me dava com outras crianças da minha idade: nunca andei em nenhuma creche, nem frequentei a pré-primária. [/pullquote]Eram as bandas desenhadas publicadas na altura, as que podiam ser encontradas com facilidade em qualquer banca de jornais e livrarias. Essas histórias eram o meu mundo, porque não me dava com outras crianças da minha idade: nunca andei em nenhuma creche, nem frequentei a pré-primária. Por conseguinte, só me dava com adultos, que eram os meus pais e os meus avós, principalmente. A minha mãe brincava muito comigo e lembro-me que ela também me ensinava as letras e os números.
Um dia estava sozinho a folhear um novo almanaque especial da Disney, só com histórias do Pato Donald, e, às tantas, na história «Donald e as Formigas», dou por mim a ler os textos dos balões. Foi uma sensação bizarra, por duas razões: porque foi repentino, ou seja, num momento eu não estava a ler e no momento seguinte já estava; e também porque tive a percepção de que conseguira algo que não era suposto fazer-se naquela idade. Devia ter entre os quatro e os cinco anos, provavelmente estava à beira dos cinco anos. Por isso, quando entrei para a escola já sabia ler e tinha lido muitas coisas: desde bandas desenhadas a enciclopédias infanto-juvenis sobre muitos temas, alguns títulos daquelas séries clássicas para miúdos, também, e algumas coisas de adultos.
[pullquote align=”left”]Aprendi a ler num livro de banda desenhada e devo à banda desenhada a colocação da primeira pedra do meu edifício criativo. [/pullquote]Na escola, aquilo que eu gostava era de uma raposa embalsamada que estava em cima de um armário da sala de aula e que, um dia, a professora lá me deixou fazer umas festas. Isto parece que é inventado, porque nos últimos anos tenho escrito bastante sobre a minha relação teofânica com raposas, reforçada desde a escrita de «Lisboa Triunfante», mas asseguro que isto é totalmente verdade: quanto entrei para a escola, havia uma raposa embalsamada na sala de aula, em cima de um armário. Era uma raposa pequena, mas fascinava-me. Acho que vi na raposa um elo de comunicação com o meu mundo, com o mundo das histórias e dos livros. Para mim, era uma personagem saída de um qualquer livro para me dulcificar aquelas horas terríveis. Resumindo: aprendi a ler num livro de banda desenhada e devo à banda desenhada a colocação da primeira pedra do meu edifício criativo, mais tarde autoral.
[pullquote align=”right”]Acho que, já nessa altura, gostava de palavras incomuns e de usá-las sempre que pudesse[/pullquote]Foi em casa dos meus avós que inventei as minhas primeiras personagens de BD. A partir daí, comecei a criar os meus livros de banda desenhada, desenhando em folhas arrancadas a cadernos, que depois agrafava – eram histórias de animais antropomorfizados, à semelhança das histórias Disney que eu lia. No tal dia em casa dos meus avós, a primeira banda desenhada que fiz foi uma sequência, numa só folha de papel quadriculado, tirada de um bloco de notas do meu avô, que contava a história de dois pintos que conseguiam escapar do ataque de uma raposa usando uma tina de metal para o efeito: quando a raposa salta para abocanhar um dos pintos, o outro ergue a tina e a raposa bate com a cabeça e desmaia, ficando com um grande galo com estrelas à volta. O título era «Raposa Emplumada», vá lá saber-se porquê, porque não tem nada a ver com o desfecho.
Acho que, já nessa altura, gostava de palavras incomuns e de usá-las sempre que pudesse: naquela idade, aos seis anos, “emplumada” é uma palavra tão exótica quanto… sei lá… “salbutamol”, por exemplo (estou a olhar para o meu broncodilatador). Essa história de uma só folha era uma pura colagem ao tipo de humor dos desenhos animados da Warner Bros ou das bandas desenhadas Disney, mas esse foi, de facto, o momento em que comecei a fazer BD. A banda desenhada deu um caminho à minha imaginação ainda infantil. Deu-lhe um propósito, algo com que ela pudesse crescer. Portanto, devo tudo à banda desenhada e adoro-a. Actualmente, não leio tanta como lia, mas no que concerne a escrevê-la, está-me no sangue.
[the_ad id=”17129″]
Como é que um autor virado para o terror e para o macabro é fã de Astérix e Miffy? Como surgiu esse fascínio?
Não tenho nenhum fascínio especial pelo Astérix, embora seja um grande fã dessa série. O primeiro livro do Astérix que li foi o «Astérix entre os Bretões». Achei que aquela história era mágica: deixei-me embrenhar completamente naquele universo e acho que mais nenhuma série de banda desenhada franco-belga provocou em mim um impacto semelhante a esse. Talvez os Estrumpfes, dos quais sou um fã fervoroso.
[pullquote] O corpo humano metia-me medo, mas os monstros não me metiam medo nenhum e eu adorava-os. [/pullquote]À distância, acho que a minha atracção pelos Estrumpfes relacionava-se com a linguagem, com o modo estranho, mas tão natural, com que eles falavam. Foram livros que beneficiaram de um excelente tradutor, o Ricardo Alberty, que foi um grande autor de livros infantis: os diálogos dos Estrumpfes traduzidos pelo Alberty são espantosos. Quanto à Miffy, é um fetiche recente, porque quando eu era miúdo nunca li nenhum livro da Miffy. Havia uma colecção de livrinhos escritos e desenhados pelo Dick Bruna, que eu adorava, publicados pela Verbo, mas nenhum deles era da Miffy. Aliás, nessa altura eu achava que o Dick Bruna era uma mulher, por causa do nome; quando mais tarde descobri que era um homem achei esse facto muito desajustado.
Quanto ao horror… Quando eu era miúdo tinha muito medo do corpo humano. No início dos anos oitenta passou na RTP uma série pioneira (para a altura) sobre o interior do corpo humano, com imagens inéditas, e eu nunca a vi, porque achei as primeiras apresentações verdadeiramente perturbantes. O corpo humano metia-me medo, mas os monstros não me metiam medo nenhum e eu adorava-os. Ainda nessa altura, talvez um pouco antes, até, havia uma coisa que também me metia medo: era o genérico da série televisiva «O Estranho Mundo de Arthur C. Clarke», quando a caveira de cristal se punha a rodar e a irradiar – eu via sempre essa série, que me obcecava, mas escondia-me durante o genérico, porque tinha um medo terrível da caveira.
O medo do corpo humano foi algo que só ultrapassei na terceira ou na quarta classe, quando começámos a estudá-lo nas aulas de.. Já não me lembro como se chamavam essas aulas, sinceramente… Biologia ou Meio-Físico e Social… Era um nome desse tipo, mas o que importa reter é que, felizmente, ultrapassei o medo do corpo humano.
Outro terror de infância está no Aquário Vasco da Gama, numa das escadarias que dão acesso ao museu no piso superior: é um peixe enorme, empalhado, chamado Rei dos Arenques. Encontrei-o quando o meu avô me levou ao aquário pela primeira vez e assim que lhe pus a vista em cima fugi pela escada abaixo: fiquei aterrorizado. Hoje, o Rei dos Arenques não me mete medo nenhum – até está um bocado em mau-estado, coitado –, mas confesso que o museu do Aquário Vasco da Gama ainda é um dos pouquíssimos locais nos quais me sinto desconfortável. Devo ter uma espinhela lovecraftiana, porque o Lovecraft também tinha medo de peixes.
Apesar desse medo infantil pelo corpo humano, desde cedo compreendi que o lado negro das histórias me fascinava muitíssimo e adorava ler artigos sobre casos inexplicáveis e histórias macabras. Nunca tive medo de filmes de horror, mas os filmes do David Cronenberg perturbavam-me bastante, quando eu era mais novo. Na primeira metade dos anos oitenta, no Canal 2, havia um programa qualquer sobre cinema, que eu costumava ver, e, certa vez, passou aí uma reportagem sobre o «Videodrome», que estreava nessa altura, e mostraram um excerto do filme, aquela cena em que o James Woods retira uma cassete de vídeo de um pacote e ela silva-lhe; em seguida, os cabos do leitor de vídeo e da televisão ganham vida e a imagem da boca da Deborah Harris projecta-se para fora do ecrã, esticando-o para envolver a cabeça do James Woods… Nunca tinha visto nada parecido com aquilo e aquelas imagens deixaram-me muito agitado, numa mistura de medo e excitação. Como eu, até há pouco tempo, tinha tido muito medo do corpo humano, aquelas temáticas eram um terreno ainda sensível para mim.
Quais foram os autores que te influenciaram?
[pullquote] A mistura da eloquência do humano com a irracionalidade do monstro foi muito importante para mim.. [/pullquote]Tudo o que citei me influenciou muitíssimo, naquelas idades. Além disso, o universo do Jim Henson influenciou-me muito, também, quando eu era criança e adolescente, porque mostrava monstros a conviver com pessoas: os monstros eram loquazes, mas também tinham comportamentos animalescos. A mistura da eloquência do humano com a irracionalidade do monstro foi muito importante para mim. Também me estimulava muito a ideia de que, ao mesmo tempo que havia um universo oculto sob a casca do banal, como em «O Mundo dos Fraggles», em que havia, pelo menos, dois mundos escondidos, o dos Fraggles e o dos Ogres, a convivência do humano com o monstruoso era um dado adquirido, como em «Os Marretas». Mais tarde, passou na televisão a série «The Storyteller», que me emocionou muito – ainda hoje me desperta muitas emoções. Sempre achei que o universo do Jim Henson era, de certa maneira, muito perverso, muito subversivo. Não era um universo moralista: as personagens tinham comportamentos caóticos, selvagens, comiam-se umas às outras, eram deformadas… É possível que, de um modo mais ou menos subconsciente, tente evocar nas minhas histórias a magia que eu sentia ao ver as criações do Jim Henson. De facto, sempre me senti atraído por universos muito palavrosos: gostava muito de monstros, mas queria muito saber o que é que eles tinham para dizer. Gostava de monstros com o dom da palavra.
[pullquote align=”right”]Comecei a escrever histórias experimentais, que classifico de horror filosófico e surrealista. [/pullquote]Quando comecei a desenvolver com seriedade a minha voz autoral, eu já tinha uns quinze ou dezasseis anos e, ao mesmo tempo que continuava a fazer bandas desenhadas, comecei a escrever histórias cada vez maiores. No início dos anos noventa, os meus avós ofereceram-me uma máquina de escrever (que eu ainda tenho) e as primeiras coisas que dactilografei foram pequenos contos de horror. Passava dias inteiros a imaginar e a escrever, enfeitiçado pelo bater das teclas no papel. Foi nessa altura, entre 1991 e 1992, que escrevi um romance de horror, com ambiente policial, de trezentas e tal páginas, chamado «Cidade Podre». Ainda tenho esse manuscrito guardado, mas é um trabalho ingénuo – e atípico.
[pullquote align=”right”]Influenciava-me os ambientes e as emoções que me eram transmitidas e não os conteúdos.[/pullquote]Em seguida, comecei a escrever histórias experimentais, que classifico de horror filosófico e surrealista. Nessa altura, andava, em particular, fascinado pelo imaginário de William Burroughs, Günter Grass, Clive Barker, mas também por autores obscuros, como Léon Bloy, Rachilde, Joris-Karl Huysmans, Danilo Kis… Gostava muito dos autores românticos e dos decadentistas, também, mas há escritores que descobri nessas alturas com quem nunca me reconciliei, como o Kafka e o Boris Vian, de que desgosto bastante. Gostava mais de alguns escritores alemães, como o Thomas Mann e o irmão, o Klaus Mann, mais o autor polaco de «A Rua dos Crocodilos», como é que ele se chama… o Bruno Schulz, que teve uma morte abjecta num gueto nazi. Havia um livro que eu gostava bastante, «O Caos e a Noite» do Henry de Montherlant, que tinha um final completamente “cronenberguiano”, no qual a personagem principal, um anarquista espanhol exilado em França que regressa a Madrid para receber uma herança, se “transforma”, digamos assim, em touro e morre a esvair-se em sangue no quarto de hotel onde está hospedado, como se estivesse a ser toureado. Também gostava bastante dos livros do Salman Rushdie, em particular «Os Versículos Satânicos» e «Vergonha».
Não é fácil, de facto, dizer quais os autores que me influenciaram, porque, ao fim e ao cabo, tudo aquilo que fui lendo e vendo até hoje me influenciou, de alguma maneira. Em regra, aquilo que eu lia e via nessas idades iniciáticas era escolhido em função do meu gosto, que se voltava para o macabro, para o exótico, por isso uma coisa ia reforçando a outra. Eu fui ao encontro dessas influências, porque eu próprio já tinha algo de macabro e negro para deitar cá para fora: faz parte de mim e irá fazer sempre. Já nessa altura tinha a noção de que estava a construir um universo autoral e que ele tinha de ser natural, genuíno e pessoal, daí que as influências sempre foram mais latas e recebidas de um modo muito mais abstracto do que de um modo específico e directo.
Influenciava-me os ambientes e as emoções que me eram transmitidas e não os conteúdos.
Quais foram os argumentistas que te influenciaram a nível da escrita de um argumento? Que obras técnicas é que foram fundamentais para o teu desenvolvimento enquanto argumentista e quais é que recomendas aos aspirantes a argumentista?
Por casualidade, o período em que comecei a desenvolver com seriedade o meu universo autoral, deixando para trás as experimentações mais pueris, coincidiu com a compra de um livrinho intitulado «Vamos Fazer Banda Desenhada», publicado pela Texto Editora, em 1991. O livro é simples, mas foi-me muito útil para eu aprender como se escreve uma banda desenhada, como se escreve aquilo que os ingleses chamam de “full script”. As minhas bases técnicas estão nesse livro. Se calhar, hoje nenhuma editora publicaria um manual desses, porque, à partida, não parece ser algo que vá dar lucro, mas, com efeito, há livros que não dão lucro monetário, mas que são muito lucrativos culturalmente. A partir daí fui fortalecendo a minha abordagem à escrita de BD, sempre com o objectivo de ser um autor publicado.
Perguntas-me o que é que eu posso recomendar aos aspirantes?… Não sei. Recomendo que sejam honestos consigo mesmos e descubram se têm algo para transmitir. Bem ou mal, qualquer um é capaz de contar uma história: aquilo que diferencia um autor não é saber contar histórias, mas é ter algo de pessoal para transmitir, é ter um universo próprio.
Os teus primeiros trabalhos, que eu me lembro, foram em fanzines individuais que só apresentavam os teus trabalhos. O que te levou a realizar fanzines a solo, em vez de colaborares em fanzines que já existiam?
[pullquote align=”right”]Eu nunca quis publicar banda desenhada em fanzines, sempre quis publicar banda desenhada em livro[/pullquote]Não considero essas três publicações («Alimentando-se Com os Fracos», «Pessoas Comuns» e «Horror Fiction», todas de 1999) como sendo fanzines, apesar de sempre lhes ter chamado isso, mas já nessa altura eu achava que estava errado. O que elas são, verdadeiramente, são edições de autor: são álbuns em edições de autor. Não são fanzines, porque não são seriados, são objectos estanques, auto-contidos, com espíritos diferentes.
Eu nunca quis publicar banda desenhada em fanzines, sempre quis publicar banda desenhada em livro e, nesse sentido, fui apresentar o meu trabalho a algumas editoras da altura. Na verdade, «Pessoas Comuns» foi o álbum que eu apresentei à Polvo e à Baleia Azul para publicação. Isso aconteceu no AmadoraBD de 1997, talvez, ou no de 1998. Ora, nem a Polvo, nem a Baleia Azul quiseram publicar «Pessoas Comuns»: a primeira, porque, segundo as suas palavras, não sabia muito bem onde arrumá-lo nas colecções que tinha na altura; a segunda, porque, dizia, não publicava álbuns a preto-e-branco… É claro que hoje, à distância, eu e o Rui Brito, e o José Abrantes, certamente, achamos isto cómico – a Polvo, em 2005, até publicou o meu livro de contos de horror «As Trevas Fantásticas».
Mas regressando a 1998: a ideia para fazer as tais edições de autor que mencionei no início desta resposta surgiu no âmbito da Tertúlia BD de Lisboa, um encontro mensal que, até há poucos meses, era organizado pelo Geraldes Lino, que dispensa apresentações: a convite do Lino, que conheci no AmadoraBD de 1998, comecei a frequentar a Tertúlia BD de Lisboa, no Parque Mayer, e apercebi-me que circulavam aí muitos fanzines, todos muito diferentes, e dei por mim a pensar que um formato parecido poderia ser uma boa forma de divulgar o meu trabalho, em especial no meio bedéfilo. Então, fiz o «Alimentando-se Com os Fracos», compilando duas bandas desenhadas que já tinha feito e que possuíam um espírito semelhante, e enviei exemplares para diversos órgãos de imprensa, como o Blitz, que tinha sempre uma página ou duas com críticas a fanzines e livros de banda desenhada. O Blitz, nessa altura, ainda era um jornal e tinha um conteúdo muito eclético, muito diversificado. De facto, «Alimentando-se Com os Fracos» foi falado nessa rubrica do Blitz e a crítica foi muito boa – a primeira coisa que eu pensei foi “este tipo compreendeu totalmente o que eu quis fazer”. Foi a minha primeira crítica profissional. Saíram outras críticas, em outros jornais, revistas e fanzines que, hoje, na sua maioria, já não existem, todas muito positivas, sempre referindo o quão bem escritas e quão originais eram as histórias.
Para mim foi uma surpresa neste sentido: ambas as bandas desenhadas de «Alimentando-se Com os Fracos», intituladas «Novas Aventuras de Nietzsche» e «Saliva», são histórias de horror muito viscerais, muito psicadélicas, também, e fiquei feliz por ver o meu horror surrealista reunir um consenso positivo tão grande. Em seguida, fiz o «Pessoas Comuns», recuperando o álbum que já mencionei há umas linhas, que solidificou completamente o consenso gerado pela edição anterior; e, mais perto do final do ano, fiz o «Horror Fiction», com histórias que escrevi e desenhei para o efeito. Para mim, intitular essa edição dessa forma era um manifesto autoral fortíssimo: basicamente, estava a dizer “esta é a minha visão sobre o que o horror deve ser, para mim o horror é isto” e foi a primeira vez que, no contexto português, a designação “horror fiction”, “ficção de horror”, foi usada de modo preciso e deliberado. Na verdade, acho que foi a primeira vez que foi usada, “tout court”.
Essas edições de autor mostraram-me que era possível apresentar ideias e conceitos muito extremos, muito complexos, às pessoas e fazê-las gostar deles, porque os textos eram muito bem escritos, as ideias eram muito boas. Mas essas edições sempre foram feitas com uma lógica de “consumo interno”, chamemos-lhe isso: foram edições de autor, de poucos exemplares, que eu fiz para divulgar o meu trabalho no meio bedéfilo, entre os leitores especializados. Esses trabalhos nunca chegaram ao grande público.
O que te levou a criar a tua própria editora, a Circulo de Abuso, para publicares os teus trabalhos?
Duas coisas: a primeira foi o facto de que fazer as tais três edições de autor deu-me o gozo de controlar o resultado final do meu trabalho à minha maneira, sem interferências e sem períodos de espera entre a concretização e a publicação – era querer e fazer, exactamente como imaginava; a segunda foi o desejo de que o meu trabalho chegasse ao grande público. Porém, quando criei a Círculo de Abuso, no início de 2000, o meu objectivo imediato não era tanto publicar a minha banda desenhada, mas o meu trabalho em prosa. Em 1998 enviara às editoras um manuscrito de um livro de contos de horror surrealista, intitulado «Coração de Hiena». Foi recusado por quase todas as editoras às quais eu o enviei, mas cheguei a falar ao telefone com os editores de duas editoras (muito conhecidas) que tinham achado piada aos textos, mas que só os aceitariam publicar se eu estivesse disposto a fazer umas revisões. Ora, eu não queria fazer revisões nenhumas, por isso deixei as coisas por ali.
Mas voltando a 2000… Uns meses antes, terminara a escrita de um romance de horror surrealista, intitulado «O Inexorável», uma história muito intrincada à qual, entretanto, fui buscar elementos para trabalhos posteriores. Existem muitos pedaços de «O Inexorável» em «A Última Grande Sala de Cinema» e existem pequenos detalhes de caracterização e ambientes, pequenas pinceladas, desse romance inédito em alguns contos que escrevi em seguida. Contudo, nem sequer enviei esse manuscrito às editoras, ao contrário do tal livro de contos: estava tão satisfeito com a experiência das edições de autor que pensei em publicá-lo pela nova editora que tinha criado. Cheguei a paginá-lo e a fazer a capa, mas não tinha experiência nenhuma de edição profissional, nem sequer distribuidor, e quando comecei a receber os orçamentos das gráficas percebi que não tinha dinheiro para fazer um livro tão caro. Estamos a falar de um romance com mais de trezentas páginas. Pensei que talvez fosse boa ideia publicar algo mais pequeno, fácil de controlar e mais barato. Para o efeito, agarrei numa banda desenhada que estava a fazer e que até tinha pensado em submeter para publicação na colecção LX Comics da Bedeteca de Lisboa: essa banda desenhada é «Cidade-Túmulo», uma adaptação de um conto de horror que eu escrevera no ano anterior.
Em Março de 2000 saíra uma banda desenhada minha no número seis da colecção LX Comics, que era conceptual e sobre um dia inteiro passado em Lisboa, com histórias de vários autores. Comecei a desenhar «Cidade-Túmulo» com a ideia de publicá-la nessa colecção, mas nunca cheguei a falar nisso, porque decidi inaugurar a minha nova editora com ela.
[the_ad id=”17129″]
Quais eram os problemas que existiam no mercado da BD e que uma pequena editora em Portugal enfrentava nessa época (2000)?
Sobretudo, problemas de distribuição. Quem distribuiu «Cidade-Túmulo» foi a Destarte, que gostou do livro e fez um bom trabalho, mas passados uns meses a seguir ao livro ter sido editado, recolheram todos os exemplares que não foram vendidos para mos devolverem, tal como se o livro fosse apenas um número de uma qualquer revista periódica. Ou seja, o livro «Mr. Burroughs», que eu estava a preparar – que eu tinha acabado de pôr na gráfica para ser impresso – seria, para eles, uma espécie de “número dois” de «Cidade-Túmulo», e assim por diante. Para mim, isso era impensável, de modo que terminei a relação profissional com eles. Fiquei sem distribuidor para «Mr. Burroughs» até a editora Witloof manifestar interesse em distribuir as minhas edições. Esse convite surgiu, porque, no AmadoraBD de 2000, coloquei «Mr. Burroughs» (e «Cidade-Túmulo») à venda no “stand” da Witloof e, logo no primeiro fim-de-semana, o livro esgotou no “stand” – tive de ir repô-lo, de imediato. Fiquei muito satisfeito, porque o problema da distribuição ficara resolvido. A Witloof foi uma editora de banda desenhada fundada por Fanny Denayer.
Nesse AmadoraBD, o burburinho criado em volta de «Mr. Burroughs» foi imenso e muito positivo – na verdade, o livro caiu que nem uma bomba no panorama da BD portuguesa. Como a Witloof enviava as minhas edições para uma livraria de Santiago de Compostela, comecei a receber emails de leitores espanhóis que não tinham ideia de que em Portugal se faziam livros de BD assim. Para mim, foi uma grande satisfação, porque escrevi «Mr. Burroughs» num período em que estava desempregado: no início de 1999 despedi-me de uma agência de publicidade onde trabalhei como arte-finalista e, às vezes, ilustrador, e andava, nesse momento, à procura de trabalho na mesma área. Ainda demorei um bocado até perceber que não queria – e não gostava – de trabalhar em publicidade, de todo, mas até isso acontecer passei algum tempo a ir a entrevistas e a enviar currículos, o que consistiu numa perda de tempo. Mas há males que vêm por bem: «Mr. Burroughs» foi escrito nesse período, num bloco de notas, num café perto de casa – ia até ao café para ler e escrever e uma das histórias que escrevi foi esse livro.
Depois de ter publicado «Cidade-Túmulo» comecei, de imediato, a desenhar «Mr. Burroughs», talvez em Junho ou Julho de 2000. Fiz umas duas ou três pranchas, não mais do isso, mas estava fisicamente e psicologicamente exausto, porque os últimos meses tinham sido muito frenéticos e dei por mim a cansar-me de desenhar. Os leitores podem não ter essa percepção, mas fazer banda desenhada é desgastante: é um trabalho que exige muita concentração, muitas horas em que estamos curvados sobre o estirador e, naquele momento, eu não tinha a energia necessária para desenhar um novo livro a tempo de lançá-lo no Amadora BD desse ano, que era a minha intenção.
A solução era evidente: encontrar um desenhador. Lembrei-me de um estilo de desenho que, entre outros, poderia casar bem com o meu argumento e que eu tinha visto no tal número seis da Colecção LX Comics em que tinha participado: era o desenho do Pedro Nora. Enviei-lhe um email, porque os nossos emails tinham sido publicados no álbum da Bedeteca, a apresentar-me e a convidá-lo para desenhar o meu livro e ele aceitou. E o livro recebeu dois Prémios Nacionais de Banda Desenhada no AmadoraBD do ano seguinte, para Melhor Argumentista e para Melhor Desenhador. Tudo isto, porque, felizmente, me despedi de um emprego estúpido.
“Mr. Burroughs”, ilustrado pelo Pedro Nora, foi editado em França, como é que surgiu essa possibilidade?
[pullquote align=”right”]O que não foi uma desilusão foi o facto de que o livro colheu críticas impressionantes nas revistas francesas da especialidade e até em alguns jornais[/pullquote]Acho que foi algures em 2001 (não me lembro da data exacta, mas, provavelmente, terá sido a meio do ano) que recebi um email da Fréon, uma editora belga de banda desenhada “alternativa”, a informar-me de que tinham visto o meu livro e queriam editá-lo em francês. Fiquei muito contente, como é evidente, e o resultado foi que, um pouco mais tarde, um tipo da Fréon veio a Lisboa para falar comigo e com o Pedro. Acho que foi o Olivier Deprez, que também é artista, mas, para ser honesto, não me lembro muito bem se foi ele ou não – acho que foi. Seja como for, percebi, de imediato, que havia uma série de coisas que não estavam a correr bem com aquele negócio (para ser sintético), mas, naquele momento, a minha única preocupação era ter nas mãos uma edição francesa do «Mr. Burroughs».
[pullquote]Eu acho que eles são, assim, mais caloteiros.[/pullquote]Meses depois, a Fréon fundiu-se com uma editora semelhante, mas francesa, a Amok, e ambas passaram a ser a Frémok. Foi a Frémok que editou a versão francesa de «Mr. Burroughs» e o livro ficou feio com o Diabo, com uma péssima impressão que “entupiu” os traços mais finos do Pedro e uma capa que parece um cartaz de um circo. Enfim, uma espécie de versão pesadelar franco-belga de “Querido, Mudei o Álbum”. O que não foi uma desilusão foi o facto de que o livro colheu críticas impressionantes nas revistas francesas da especialidade e até em alguns jornais “mainstream”.
Tiveste algum benefício em termos monetários ou exposição do teu trabalho com essa edição?
Nenhum. Nunca recebi um cêntimo dessa publicação. O Pedro também me disse que não recebeu nada. Uma vez comentei isto com um colega da BD e ele respondeu: “ah, pois, eles da Frémok são, assim, mais poéticos”. Eu acho que eles são, assim, mais caloteiros. Falei com um advogado sobre o caso, mas ambos concordámos que seria uma perda de tempo e de dinheiro apenas para receber uns trocos. O livro, porém, ainda está vivo: fui a Paris em 2009 e encontrei-o em várias livrarias. A única coisa que ganhei com essa publicação foi o facto de poder dizer que tenho um livro publicado em francês, o que serve sempre para encher o olho aos portugueses que, na maioria das vezes, só valorizam o trabalho de quem é reconhecido lá fora. Reconhecido lá fora fui, certamente, e tenho as críticas para prová-lo. Até figuro num livro académico sobre banda desenhada, escrito por um autor norte-americano – se calhar até em mais do que um livro desse género, mas sinceramente não perco tempo a procurar informações na Internet sobre trabalhos que já escrevi há mais de dez anos.
O que te levou a abandonar o desenho para te dedicares só ao argumento?
Depois de publicar «A Última Grande Sala de Cinema», em 2003, perdi a vontade de desenhar. Simplesmente, desapareceu, mas não me aborreci com o desenho, nem decidi deixar de desenhar, de modo consciente. Simplesmente, não me apetece, embora continue a desenhar coisas parvas só para mim.
Alguma vez te disseram que te devias dedicar à escrita, porque não tinhas futuro como desenhador?
Nunca, mas as pessoas raramente dizem o que pensam, por isso até pode existir quem pense dessa forma. De qualquer maneira, ter futuro como desenhador não é a mesma coisa do que ter futuro como autor de banda desenhada, porque pode-se saber desenhar muitíssimo bem e ser-se um péssimo autor de BD – aliás, isso acontece com uma frequência enorme. Mas, não, nunca ouvi nada desse género e tenho uma desconfiança natural sobre quem acha ser capaz de prever o futuro.
Colaboraste com crónicas para o site Central Comics e foste dos primeiros autores a converter-se aos blogs. Qual foi a importância que esses meios de comunicação com o público tiveram para a divulgação do teu trabalho?
Acho que se dá demasiada importância à Internet, desse ponto de vista, e que a idade de ouro da divulgação pela Internet, como existe hoje, está a chegar ao fim, por culpa da saturação. Há demasiada informação – e informação estúpida – e os indivíduos, simplesmente, já nem lêem com atenção a maioria daquilo que se publica virtualmente. [pullquote align=”right”] Só o ser humano pensa por palavras, por isso fico perplexo com o desprezo que a cultura contemporânea tem por elas.[/pullquote]Mas continuo a achar que os blogues são um bom espaço de divulgação, encontro e reencontro, de recuperação de memória, por oposição às redes sociais que são antidivulgação e antimemória.
Já no século V a. C., o ilustre dramaturgo Eurípides disse uma coisa que, infelizmente, e inexplicavelmente, tem sido esquecida: «os discursos longos são melhores que os curtos» (o mesmo vale para as entrevistas). Se os indivíduos pararem um pouco para pensar, perceberão que faz todo o sentido: a conversa de que temos todos de sintetizar as nossas ideias e as nossas conversas até quinze palavras ou até ao limite de 140 caracteres é algo que foi introduzido na esfera pública pelos engenheiros de “marketing” e é hostil à racionalidade. Foi um conceito inventado para vender torradeiras, digamos assim, não foi inventado para transmitir cultura. Os animais não pensam por palavras, pensam por associações de imagens e de sons.
Só o ser humano pensa por palavras, por isso fico perplexo com o desprezo que a cultura contemporânea tem por elas, porque é o desprezo pelo humano, pelo pensamento. No fundo, irá sempre existir quem não queira pensar muito e se sinta confortável em falar pouco. O Saramago dizia que “vamos descendo até ao grunhido”. Para já, ainda só vamos no degrau descendente das microficções.
As microficções fazem-me sempre lembrar aquela anedota da professora que pede aos alunos para escrever uma composição sobre os temas religião, monarquia e sexo e há um aluno preguiçoso que escreve apenas esta frase: “ai, meu Deus, disse a princesa, é tão bom”. Isto é uma microficção – há uns anos era anedota, hoje é uma parte da realidade. Eu sou a favor das macroficções, mas não estou a falar dos vulgares “tijolos” de aeroporto: estou a falar da tradição do romance enciclopédico, que se perdeu. Mas é natural: normalmente, quem só é capaz de escrever “pequeno” não se sente muito confortável ao pé de quem escreve “grande”.
Mas falávamos de divulgação… O blogue continua a ser a minha ferramenta favorita de divulgação. Já experimentei o Facebook e não gostei: aquilo não é para mim. Os crustáceos têm uma câmara engraçada no seu sistema digestivo muito simplório, que é o moinho-gástrico, onde se tritura tudo, ao trouxe-mouxe, numa mistela que, em seguida, em outra câmara digestiva, é esquadrinhada quimicamente para buscar-se os nutrientes. O Facebook é um pouco zigocardíaco, nesse sentido: olha-se para a página de entrada e tudo aquilo é homogéneo, como se o Facebook triturasse todos os conteúdos para ficarem com a devida consistência “facebookiana”. Depois temos nós de andar ali, pacientemente, em busca de nutrientes… Mas não há ali nada que se destaque – e quando isso acontece, quando se descobre um nutriente no meio da mistela, ele escorrega na enxurrada de outras dezenas de publicações que não têm interesse nenhum e nunca mais se volta a encontrá-lo. É a antítese total da divulgação: ou se vê qualquer coisa na altura da sua publicação ou já não se vê coisa nenhuma. É como o Twitter. Ainda mantenho um perfil de Twitter, porque é menos distractivo que o Facebook, mas fico-me por aí. Nunca fui fã de palimpsestos e sou alérgico aos crustáceos.
No fundo, agrada-me saber que tenho leitores fiéis ao meu blogue e que compreendem as minhas intenções e modo de estar na Internet.
Em 2002 foste o vencedor de uma bolsa de criação literária, atribuída pelo Instituto do Livro e das Bibliotecas e pelo Ministério da Cultura, o que te permitiu passar um ano a trabalhar no álbum “A Última Grande Sala de Cinema”. Essas bolsas de criação para a BD foram de curta duração e foste, salvo erro, o último ou um dos últimos a beneficiar delas. Qual é a tua opinião sobre a sua extinção e sobre o modo como a BD é tratada, em geral, enquanto arte no panorama cultural português?
Como é que a banda desenhada é tratada no panorama cultural português? Acho que é ignorada, porque é uma área pouco lucrativa e, em regra, só há interesse e divulgação onde há dinheiro a ganhar. A banda desenhada portuguesa é um fenómeno de nicho dentro do nicho da BD. Sim, existem muitos leitores, mas existe um número muito maior de não-leitores que, se calhar, até iriam gostar de certos livros se lhes chegasse informação sobre eles, através dos meios de comunicação. Quando não é ignorada, raras são as vezes em que a banda desenhada não é descrita como sendo algo anódino, perfeitamente descartável.
[pullquote align=”right”] Quando não é ignorada, raras são as vezes em que a banda desenhada não é descrita como sendo algo anódino, perfeitamente descartável.[/pullquote]Ao contrário da opinião generalizada, eu acho que o problema maior, neste aspecto, não é o facto da banda desenhada estar, na psique popular, indissoluvelmente associada aos leitores infanto-juvenis, porque, de facto, ela possui um grau de atracção muito grande para crianças e jovens e a minha experiência demonstra que a BD é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento da imaginação, porque age sobre o cérebro de uma forma que somente as palavras ou somente as imagens são incapazes de fazer – em especial nas idades mais jovens. A banda desenhada opera estímulos muito diferentes daqueles que são provocados pela leitura de um comum livro ilustrado: a banda desenhada não é ilustração, é uma linguagem narrativa. Todavia, isso não significa que a banda desenhada só sirva para contar histórias infanto-juvenis: a BD não é um género. É uma linguagem, como a prosa e a poesia. Pode-se contar o que se quiser com ela.
Ainda hoje encontro pessoas que confundem banda desenhada com desenhos animados ou que nem sequer sabem ler uma banda desenhada: passam a vista a correr sobre as vinhetas, como se olhassem para um quadro no museu, em vez de ler as imagens como se fossem palavras. O facto é que ler banda desenhada é difícil, mas é fácil os leitores de banda desenhada esquecerem-se disso, assim como é fácil os melómanos esquecerem-se que qualquer música que não seja “sol e dó” provavelmente não entrará com facilidade nos ouvidos da maioria das pessoas, pelo menos num primeiro contacto. Não estou a dizer que toda a banda desenhada é arte ou culturalmente significante, apenas estou a dizer que a linguagem da BD é, por natureza, não-instintiva, mas pode-se fazer coisas maravilhosas com ela, é verdadeiramente especial.
Posto isto, as bolsas de criação literária atribuídas aos autores portugueses de BD pelo Instituto Português do Livro e das Bibliotecas e pelo Ministério da Cultura eram, para começar, simbólicas da importância cultural da banda desenhada. O público é bastante cínico em relação à cultura, em maior espessura quando a cultura é apoiada pelo estado, porque assoma, de imediato, o discurso populista de que os artistas estão a querer viver à conta do dinheiro dos contribuintes, o que é totalmente falso: os apoios estatais à cultura derivam das receitas da publicidade televisiva, por exemplo. Não têm nada a ver com os impostos. Seja como for, uma sociedade sem cultura é uma sociedade morta, é uma sociedade que cortou todas as ligações que tinha com aquilo que significa ser-se humano para tornar-se, em lugar disso, uma aberração que de humano apenas tem a aparência. [pullquote align=”left”]Uma sociedade sem cultura é uma sociedade morta. [/pullquote]Tudo isso emana, quase em exclusivo, do facto de que a cultura, por princípio, não é uma actividade lucrativa, como, por exemplo, especular sobre derivados. Especular dá dinheiro, logo é visto como uma actividade útil, respeitável, mesmo que, no final do dia, milhões de pessoas fiquem sem casa e se suicidem por culpa disso. A arte não é contabilizada dessa forma: é única, irrepetível, original, arisca ao lucro – por isso é observada como uma coisa inútil, que apenas serve, quanto muito, para entreter. Os artistas, quando o são por natureza, são capazes de morrer de fome para deixar uma última obra de arte feita – nenhum especulador é capaz de morrer de fome para arruinar mais uma família. Vivemos numa sociedade que está, constantemente, a valorizar as coisas erradas e a defender o indefensável.
Por isso, acho que as bolsas eram importantes, do ponto de vista simbólico: o dinheiro envolvido não era muito. No meu caso, nem sequer recebi a bolsa por inteiro, porque como terminei o livro num prazo inferior a doze meses pedi para a cancelarem, de modo a publicá-lo. Usei esse dinheiro para imprimir o livro, que foi muito caro, e, um pouco mais tarde, nesse ano, a Witloof cancelou a actividade de distribuição. Foi por essa razão que «A Última Grande Sala de Cinema» esteve disponível durante pouco tempo.
Em 2002/2003 já eras considerado como sendo um argumentista, apesar de só teres realizado um obra em parceria com um desenhador: as restantes, naquela altura, foram todas escritas e desenhadas por ti. Como é deixaste de ser um autor “completo” para passares a ser só um argumentista?
Para começar, não sou um argumentista: sou um autor. Tenho um universo autoral próprio, no qual exploro e interrogo conceitos e ideias-chave, sempre de pontos de vista diferentes. Os meus livros de banda desenhada que são desenhados por outros artistas são fruto da minha visão autoral, pormenorizada e aturada. [pullquote] Não faço compromissos e ou se aceita a minha forma de trabalhar ou não se aceita a minha forma de trabalhar.[/pullquote]Quando convido um artista para desenhar um livro meu não estou a convidá-lo para inventar uma história com base numa sinopse ou numa ideia: estou a convidá-lo para desenhar a minha história, que já está pensada, planificada e escrita ao pormenor. Não faço compromissos e ou se aceita a minha forma de trabalhar ou não se aceita a minha forma de trabalhar, é bastante simples. Mas digo-te o seguinte: cada livro de BD que escrevo tem sido, sempre, nomeado para as categorias principais dos Prémios Nacionais de Banda Desenhada atribuídos pelo Amadora BD. E desde «Mucha» que sou nomeado nas três principais categorias (Melhor Álbum, Melhor Argumento e Melhor Desenho) há quatro anos consecutivos. O que é que isto te diz?
Por conseguinte, esse mito do autor “completo”, seja lá isso o que for, é uma farsa, no sentido etimológico: “farsa” significa “recheio de enchidos”. É, literalmente, um mito para encher chouriços, pugnado, em principal, por quem não percebe um fio de cabelo sobre como é que se cria um livro de banda desenhada. Escrevo banda desenhada, escrevo prosa, gravo discos de “spoken word” e, além disso, também desenho. Se isto não é ser um autor “completo”, o que é?
Os teus primeiros trabalhos de BD pautavam-se por um excesso de texto, no aspecto em que a quantidade do texto presente nas vinhetas por vezes não deixava espaço para o desenho respirar tapando-o quase por completo. A partir de “A Última Grande Sala de Cinema” existe uma depuração completa do texto, passando a existir uma dependência quase total do desenho com longas sequências silenciosas. A que se deveu essa opção radical?
Essa visão é totalmente falsa. O único livro que tem uma quantidade de texto que poderá ser considerada “excessiva”, como sugeres, é «Sammahel» e, ainda assim, o problema não está na quantidade de texto, mas no formato do livro. Devia tê-lo feito no formato de «A Última Grande Sala de Cinema» para que o texto e o desenho respirassem melhor.
A arte de «Sammahel» é muitíssimo detalhada, experimental, tem muitos pormenores, colagens surrealistas, etc., e não resultou tão bem quanto o esperado no formato em que foi impressa. Há coisas que se vêem um pouco mal e outras que, por culpa da impressão, ficaram algo difusas, mas no que diz respeito à quantidade de texto não há nada de errado. Se fores reler as minhas edições anteriores, remontando até às três edições de autor iniciais, descobrirás que existem muitas bandas desenhadas minhas cheias de sequências silenciosas ou com manchas de texto menores. Nesse sentido, as longas sequências silenciosas de «A Última Grande Sala de Cinema» não são opção radical nenhuma: são parte do meu estilo autoral e eu uso-as desde o início.
Quando começo a dactilografar um novo argumento não me sento ao computador a pensar “hum, esta nova banda desenhada tem de levar mais ou menos manchas de texto, porque a anterior levou mais ou menos manchas de texto”. Cada banda desenhada tem a quantidade de texto que precisa. «Sammahel», uma adaptação livre do romance «Doutor Fausto» de Thomas Mann, é banda desenhada com narrador, assim como «Cidade-Túmulo» e «Mr. Burroughs». «A Última Grande Sala de Cinema» não tem narrador. Mas até uma banda desenhada silenciosa tem muito texto: o Alexander Theroux, o meu escritor preferido, diz que “a caracterização de personagens é enredo” – eu digo-te que as imagens são palavras. As vinhetas são palavras: as pranchas são frases. É preciso ler as bandas desenhadas: nunca ninguém diz “vi uma banda desenhada”, tal como dizem “vi um filme”. Diz-se “li uma banda desenhada”. BD é narrativa. Se fores leres os meus argumentos descobrirás que todas as sequências silenciosas foram escritas e planificadas – a imagem é texto.
“Sobre BD”, editado em 2004, é um livro que reúne ensaios teus sobre obras de banda desenhada. Já pensaste em escrever mais ensaios sobre BD?
Claro. Tenho alguns livros de ensaio, ou de não-ficção, pensados, à espera da oportunidade certa para serem escritos – sobre banda desenhada e outros temas do meu espectro de interesses e conhecimentos. Aliás, nesta altura estou a meio da escrita de um livro de não-ficção que conto terminar no próximo ano. É diferente de «Sobre BD» e de «Compêndio de Segredos Sombrios e Factos Arrepiantes», porque só tem um tema (embora ele permita falar sobre muita coisa diferente). A abordagem é erudita e enciclopédica.
Leio muito e cruzo muita informação de muitas fontes diferentes, o que me dá a oportunidade de criar hipóteses que eu considero interessantes e originais sobre problemáticas conhecidas (e desconhecidas). A minha abordagem é ecuménica e epistemológica, digamos assim. No meu blogue vou publicando alguns pequenos ensaios que, mormente, servem de ginásio para textos de maior fôlego. De há uns anos para cá, a maioria das minhas leituras são livros de não-ficção: história, divulgação científica, etimologia, temas bizarros e extravagantes, muita coisa diferente. Sou obcecado em procurar a verdade sobre os assuntos e em conhecer bem as áreas que mais me apaixonam, sou incapaz de deixar esses estudos a meio. Nessa abordagem minuciosa não me deixo tolher por dogmas de qualquer espécie.
Sou ateu, o que, como calculas, é muito útil para estudar matérias como história das religiões e correntes diversificadas do esoterismo ocidental, porque me permite uma reflexão “-ética” sobre os assuntos, em vez de pugnar por um ponto de vista “-émico”. Os sufixos “-émico” e “-ético”, desenvolvidos por Kenneth Pike nos anos cinquenta, surgiram no campo da linguística, mas, hoje, são ferramentas usadas por muitas disciplinas distintas, inclusive a antropologia e a sociologia, graças a cientistas como Marvin Harris, por exemplo, para distinguir aquilo que é um ponto de vista interior e um ponto de vista exterior, chamemos-lhe isso: ou seja, o ponto de vista “-émico” é o de quem está por dentro de um qualquer sistema, seja social, político, religioso, etc., de quem, invariavelmente, acredita naquilo que está a fazer ou a experienciar; ora, o ponto de vista “-ético” é desapaixonado, teórico, científico, sobre esses mesmos sistemas, é o de quem está de fora a olhar para dentro. [pullquote align=”left”]Eu já acusava cansaço da actividade editorial e das preocupações práticas a ela inerentes, que me roubavam espaço mental à criação.[/pullquote] O ponto de vista “-émico” não serve para apurar a verdade sobre os assuntos, daí que eu procuro, sempre, ler e avaliar a partir de um ponto de vista “-ético”, independentemente de onde essa agulha me levar. É preciso coragem, porque, muitas vezes, tem de derrubar-se ideias feitas ou lugares-comuns da história, mas a verdade sobre os assuntos é infinitamente mais rica.
O problema de «Sobre BD» prometia ser a distribuição, porque na altura em que o publiquei já não tinha distribuidor. Mas quis muito publicar «Sobre BD», por isso fui em frente. No entanto, depois do livro ter sido publicado tive uma ajuda da editora Devir, que o distribuiu: foi assim que «Sobre BD» chegou às livrarias. No entanto, eu já acusava cansaço da actividade editorial e das preocupações práticas a ela inerentes, que me roubavam espaço mental à criação. Nessa altura, decidi cancelar a actividade editorial da Círculo de Abuso para poder dedicar-me, em exclusivo, à criação artística. Ainda iria, claro, devotar a minha dedicação ao recente «Sobre BD», mas ele iria ser o último livro da minha editora, cujo nome fora inspirado no modelo infernal imaginado por Dante: o dos círculos do Inferno. Dante esquecera-se de inventar um círculo de abuso, o que é lamentável, por isso achei que seria uma boa ideia colmatar esse pecado. Sempre achei que era um nome tremendo para uma editora.
«Sobre BD» foi um livro que me deu um prazer enorme escrever. Orgulho-me muito dele e penso que foi um livro importante. Em 2005, ganhou um troféu do “site” Central Comics para Melhor Publicação de Investigação/Especializada e obteve um mediatismo inesperado, para um livro daquela natureza, na imprensa e na televisão.
[the_ad id=”17129″]
Depois de “A Última Grande Sala de Cinema”, em 2003, só voltaste a editar um álbum em 2009 com “Mucha”. ilustrado pelo Osvaldo Medina e com arte-final do Mário Freitas. A que se deveu a ausência de 6 anos do mundo da BD?
Foi uma ausência de publicação de bandas desenhadas, mas nunca foi uma ausência presencial, como toda a gente sabe. Essa ausência de bandas desenhadas publicadas deveu-se à dificuldade que tive em encontrar desenhadores que quisessem desenhar os argumentos que eu, entretanto, fui escrevendo. Como não me apetecia desenhar esses livros, fui tentando encontrar desenhadores, mas, como sabes, naquela altura não abundavam desenhadores com vontade de trabalhar em equipa com um argumentista – mas nunca deixei de escrever banda desenhada.
[pullquote align=”right”]A prosa tem a vantagem de ser uma linguagem que eu posso trabalhar sozinho.[/pullquote] Até tive, inclusive, entre 2004 e 2005, um projecto para publicar vários “comics” de horror pela Devir, todos escritos por mim e desenhados por vários artistas, mas apesar da publicação estar garantida essa série nunca avançou, porque os desenhadores convidados nunca foram além de duas ou três pranchas esboçadas – nem sequer se chegou a completar um Nº1, experimental que fosse, para ver como correria nas bancas.
De igual modo, desde 2003, que tive, em contínuo, outros projectos, iniciados com vários artistas, que também nunca passaram de um email ou de um ou outro esboço inicial. A maioria desses artistas ainda não publicou nada, sequer, e já lá vão dez anos, portanto só tenho a concluir que eles não tinham e não têm capacidade de trabalho.
[pullquote align=”left”]Nunca me afastei da BD: continuei sempre a escrever BD. [/pullquote]A prosa tem a vantagem de ser uma linguagem que eu posso trabalhar sozinho. Por conseguinte, a dificuldade que tive em encontrar desenhadores para desenharem os meus argumentos de banda desenhada, que continuei a escrever, coincidiu com a publicação cada vez mais regular dos meus trabalhos em prosa, o que talvez tenha concorrido para criar a imagem de que me afastara da banda desenhada, o que não é verdade. Nunca me afastei da BD: continuei sempre a escrever BD, a conviver com os meus amigos do meio, a aparecer nos eventos bedéfilos e a acompanhar com atenção aquilo que ia sendo publicado.
Foi o Mário Freitas, que já vinha a realizar um trabalho constante de edição com a Kingpin Books, que me falou no Osvaldo Medina, como sendo um artista exemplar e confiável, e me perguntou se eu gostaria de trabalhar com ele num novo livro de BD para ele editar. O Mário, anteriormente, já tinha mostrado interesse em publicar «Sepulturas dos Pais», uma história que eu tinha escrito e que ainda não tinha sido desenhada, mas tanto eu como ele não encontrámos desenhador para ela e esse argumento permaneceu no limbo durante mais uns tempos (hoje, está a ser desenhado magnificamente pelo André Coelho, para ser publicado no ano que vem).
Quando o Mário me falou no Osvaldo, eu lembrei-me de desenvolver uma ideia que já tinha tido, inspirada na peça «Rhinocéros» do Eugène Ionesco: no início da Segunda Grande Guerra, os camponeses de uma aldeia, algures na Polónia, transformar-se-iam em moscas de um dia para o outro. Seria uma espécie de ensaio de horror surrealista sobre temas como a homogeneidade face ao absurdo terrível da guerra e escrevi esse argumento para ser desenhado pelo Osvaldo e arte-finalizado pelo Mário. Foi anunciado como sendo um regresso meu à BD, mas, atentando a tudo o que já te disse, foi, para ser correcto, um regresso meu à publicação de BD. Eu, o Osvaldo e o Mário devotámos as nossas melhores energias nesse título e penso que resultou num livro intrigante e perturbador.
Apesar de teres vários livros editados pela Saída de Emergência, só publicaram um álbum teu. Não lhes apresentaste mais projectos de BD ou a editora não tem interesse em editar BD?
A Saída de Emergência sempre demonstrou interesse em editar banda desenhada, mas a oportunidade para isso ia sempre sendo adiada por motivos variados.
O álbum “É de Noite Que Faço as Perguntas” foi uma encomenda da Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário da República (CNCCR) e do Centro Nacional de Banda Desenhada e Imagem e era para ser editada pela Gradiva, contudo acabou por ser publicado pela Saída de Emergência. A que se deveu esse facto?
Não sei, mas, aparentemente, não foi apenas a Gradiva que decidiu não o publicar. Houve outra editora abordada que também não quis. Sempre olhei para esse facto com naturalidade, porque as editoras, como é óbvio, são livres de escolherem aquilo que querem editar, mas não faltou quem quisesse ver aí suspeitas sobre a qualidade ou o interesse que o livro teria. Provavelmente, toda a gente achou que fazer um livro excelente sobre a nossa primeira república, a partir de um convite institucional, no âmbito das comemorações do seu centenário, seria impossível, mas eu não achei que fosse impossível, por isso aceitei o convite e fi-lo.
Acho que «É de Noite Que Faço as Perguntas» veio demonstrar que é possível agarrar num convite institucional e transformá-lo numa plataforma para se alcançar um livro autoral, pertinente, com vida própria para além do âmbito das circunstâncias que lhe estiveram na origem. O livro colheu críticas excelentes e resultou num belo objecto, do qual me orgulho bastante, porque ficou exactamente como o imaginei e planifiquei. Tive total liberdade para criar o livro que quis, o que é extraordinário. Também foi um livro importante neste sentido: criei óptimas relações profissionais com os artistas envolvidos e já trabalhei com eles em títulos posteriores.
Quando oiço falar de BD Histórica tenho vontade de fugir. Só me lembro da BD Histórica didáctica, onde a ficção não tem espaço. Limita-se a despejar dados históricos, narra os eventos com o maior rigor possível mas sem ser mais do que um relato de acontecimentos que já conhecemos, ou devíamos conhecer. Qual foi a tua abordagem ao teres de realizar uma BD histórica a convite de uma entidade oficial?
A minha abordagem foi exactamente a mesma que aplico nos meus outros trabalhos, tanto de BD como de prosa. Entende isto: «É de Noite Que Faço as Perguntas» sou eu – ou seja, é um livro escrito, pensado e planificado por mim. [pullquote align=”right”]Os tarefeiros é que encontram formas “especiais” para fazerem trabalhos diferentes e escondem as suas deficiências atrás de fórmulas .[/pullquote]Nesse sentido, iria sempre ser como é, arquitectado da forma como foi, pertencente ao mesmo universo autoral da minha restante obra. Eu não iria fazer nada de forma diferente, porque as obras são o espelho dos seus criadores. Um bom autor, com A grande, vai sempre fazer bons livros e podes crer que nunca iria colocar o meu nome na capa de um livro mau: é que nem de perto, nem de longe isso iria ou irá acontecer.
O próprio título, «É de Noite Que Faço as Perguntas», já esclarece o leitor sobre o calibre daquilo que vai ler: é um título de forte cunho autoral, exótico, que em nada faz lembrar a tal BD histórico-didáctica que mencionaste. Por tudo isso, não existiu nenhuma estratégia especial da minha parte para criar este livro. Os tarefeiros é que encontram formas “especiais” para fazerem trabalhos diferentes e escondem as suas deficiências atrás de fórmulas – eu não sigo fórmulas, os meus livros não são escritos com receituários.
Quando regressaste à BD, a ausência de texto visível ao leitor aumentou no álbum “Mucha”, que era praticamente uma história silenciosa. Depois de um longa ausência em que te dedicaste por completo á literatura, por que é que optaste por não incorporar técnicas literárias ao teu trabalho enquanto argumentista de BD?
Partes desta pergunta já se encontram esclarecidas, ou desmistificadas, nas respostas que dei às perguntas anteriores e não vale a pena estar a repetir-me.
Quanto à questão da não-incorporação de técnicas literárias, seja lá isso o que for, na BD, ela é uma falsa questão: a forma como eu escrevo BD e a forma como escrevo prosa é praticamente a mesma. A grande diferença é que a BD tem desenhos. Um trabalho em prosa tem sempre uma espécie de narrador, que pode ser de várias ordens; na BD, quando não existe a voz do narrador, presente nos cartuchos, a narração continua a existir, somente é dada pela leitura das imagens. A narração existe sempre, porque a BD é narrativa por natureza. Nesse sentido, a BD é literária e a BD que eu escrevo está cheia dos mesmos modos literários presentes nos meus romances – apenas é contada com imagens, mas as imagens são narração. As imagens adjectivam, as imagens transformam-se em figuras de estilo. Para mim isto é tão evidente que até se torna complicado estar a explicá-lo de modo prosaico, mas, no fundo, resume-se a isto: não é a mancha de texto que faz da BD uma linguagem literária, mas o modo como as próprias imagens são narrativas.
Colaboraste como vários desenhadores, mas o Pedro Serpa é o único que colaborou contigo em dois projectos. Isso é sinal de que a parceria está a correr bem? Como se desenvolve a vossa colaboração?
A nossa colaboração desenvolve-se do mesmo modo que se desenvolveram todas as outras que tive com outros desenhadores que já trabalharam comigo: eu escrevo e planifico a história e o desenhador desenha-a. É tão simples quanto isso. Há quem seja profissional e não tenha problemas nenhuns com isso, mas também já encontrei quem não fosse profissional e quisesse inventar a sua própria história sobre as minhas ideias, porque, convenhamos, criar histórias originais dá trabalho e para quem não tem talento é sempre mais fácil inventar qualquer coisa sobre aquilo que já está feito. Quando isso acontece, a colaboração termina imediatamente. Se não aceito compromissos, acordados entre ambas as partes, muito menos aceito desrespeitos parasitários daqueles que têm ambições de brilhar à custa de quem é melhor criador que eles. Isto não é nenhuma abstracção: já aconteceu – ou melhor, nunca chegou a acontecer, porque eu não deixei.
[pullquote align=”left”]As bandas desenhadas “pedem” determinados traços, determinados registos – todos diferentes. [/pullquote]Felizmente, também tenho colaborado com excelentes artistas que gostam de trabalhar comigo e com quem eu gosto de trabalhar. Normalmente, quanto melhor o artista, mais profissional ele é e mais harmoniosa é a nossa relação. O Pedro Serpa é um bom artista, com um desenho original e uma excelente colorização. Inicialmente, «O Pequeno Deus Cego» era para ter sido desenhado por outro artista, cuja colaboração não correu bem, mas o Mário, algum tempo depois, falou-me no Pedro e eu, depois de ver alguns dos seus desenhos, percebi, de imediato, que ele seria o artista indicado para desenhar esse livro. Mais uma vez, há males que vêm por bem. Gostei muito de trabalhar com ele e quando terminei a escrita de «Palmas Para o Esquilo» compreendi que o traço do Pedro também lhe seria adequado; então, convidei-o para desenhar mais esse livro e ele aceitou logo. Mas o Pedro não é o único artista que colaborou comigo mais do que uma vez, como afirmaste acima. As bandas desenhadas “pedem” determinados traços, determinados registos – todos diferentes. Eu convido o artista em função do seu traço, porque acho que determinado estilo irá casar bem com determinada história. É assim que as minhas colaborações nascem.
Editaste dois trabalhos de spoken word: “Lisboa” (2002) e “Os Anormais: Necropsia De Um Cosmos Olisiponense” (2012). O que esteve na génese desses projectos?
Sempre que tenho uma ideia para um novo trabalho, ela já me surge na mente com um cunho genético distintivo: ou é prosa ou é BD ou é, ainda, “spoken word”. Não forço as ideias a falarem com uma linguagem que não é a delas e, com efeito, tanto «Lisboa» como «Os Anormais: Necropsia De Um Cosmos Olisiponense» nasceram como trabalhos para serem interpretados. O “spoken word” é algo que me é inato, porque costumo ler em voz alta aquilo que estou a escrever, de maneira a ter uma noção nítida da eufonia do texto e da musicalidade das palavras.
[pullquote align=”right”]Foi a literatura que soltou as grilhetas da linguagem.[/pullquote]Como sabes, eu escrevo com um léxico luxuriante de palavras incomuns, mas acredita que a minha lógica é a de encontrar as palavras certas. Eu amo as palavras, a etimologia é a minha paixão. Eu leio dicionários como quem lê romances, começo no A e termino no Z, gosto de aprender palavras novas, gosto de resgatar palavras perdidas e também gosto de criar palavras. A maioria das pessoas não faz ideia de que o léxico contemporâneo foi quase todo inventado por escritores e filósofos, a partir do século XV. Palavras tão simples como “fragrância” e outras que parecem modernas como “computador” foram inventadas por escritores como Thomas Browne, John Milton ou William Shakespeare. Até Lord Byron foi um grande inventor de palavras. Antes dos escritores começarem a inventar palavras novas, com o advento da invenção da imprensa de caracteres móveis, o léxico comum era muito pragmático, rudimentar, voltado para a rotina. Foi a literatura que soltou as grilhetas da linguagem e demonstrou que as palavras podiam ser mais que meros instrumentos para pedir-se uma perna de borrego no mercado ou declarar guerra a um reino vizinho.
Um exemplo curioso: quando o Gomes Eanes de Zurara descreveu o pedido que o Infante D. Henrique fez a Gil Eanes para que passasse o Cabo Bojador, pôs o marinheiro a responder: “não nos peça isso, porque será o homicídio de nós próprios”. Isto porquê? Porque a palavra “suicídio” não existia: só foi inventada no século XVII pelo escritor Thomas Browne, um dos mais cintilantes neologistas de sempre. Mas é possível recuar mais. O latim, por exemplo, foi uma língua prática, muito simplória: o verbo “existir” nem sequer existia, que passe o pleonasmo.
Quem libertou o latim, praticamente sozinho, do barro rígido do instrumentalismo, foi Cícero, que se sentou à secretária munido de uma pena e do seu talento para criar uma nova gramática que pudesse elevar o latim ao nível do grego. Mas mesmo esse esforço não foi suficiente: o latim, tal como o conhecemos, foi criado pelos monges escolásticos medievais, que adoravam neologismos e jogos de palavras. A ideia de que a língua muda na rua é uma farsa: o que muda na rua é a oralidade, sempre pressionada por condicionalismos de ordem prática e de atalhos que facilitem a comunicação directa. São os escritores que transformam e reinventam a língua.
[pullquote align=”left”]Para mim, o maior horror é um lugar onde a palavra não existe. [/pullquote]Posto isto, os meus trabalhos de “spoken word” são fruto do meu amor pelas palavras, pela harmonia entre ritmo e forma. As palavras têm forma e a forma é significado: alterar a morfologia das palavras é mudar-lhes o significado, pelo menos para mim, que sou um bocado sinesteta e acho que as palavras têm personalidades e cores. Para mim, as palavras “cinco” e “terça-feira” são sempre verdes, a letra A é sempre azul, o número nove é preto e o sete é vermelho ou castanho. A forma das palavras é muito importante para mim e é por isso que o AO90 me causa tanta repulsa, porque é, antes de muitas outras coisas, mutilador. «Os Anormais» é um dos trabalhos que mais orgulho e satisfação me dá, mas eu sei que o formato de “spoken word” é algo que só apela a uma minoria, porque requer uma concentração e uma disponibilidade emocional incomuns. O que é uma pena, porque, para mim, os textos dos capítulos de «Os Anormais» são dos melhores que já escrevi. É um trabalho que tem doses idênticas de muito cérebro e muito coração.
És um autor de BD que escreve prosa ou um escritor que faz BD?
Sou um escritor que escreve em diferentes linguagens narrativas, entre as quais a prosa, a banda desenhada e o “spoken word”. Mas todas fazem parte do mesmo espectro literário e todos os meus trabalhos pertencem ao mesmo universo autoral.
Existem duas frases que, de maneira geral, resumem, as minhas intenções autorais, aquilo que eu tenho para transmitir aos leitores, as emoções que lhes desejo provocar. Uma é do Léon Bloy: «O meu amor por ti tem tenazes de caranguejo». A outra é da Djuna Barnes: «Fui amada por uma coisa estranha, mas ela esqueceu-me.» No fundo, tudo se relaciona com a fronteira entre o humano e o monstruoso, a distância que existe entre a loquacidade e a animalidade. As coisas em que tememos transformar-nos, mas pelas quais somos atraídos, irresistivelmente. Para mim, o maior horror é um lugar onde a palavra não existe.
David Soares vai estar no sábado, 26 de Outubro, ás 16:30 no Fórum Luís de Camões com Pedro Serpa para apresentar o álbum “Palmas Para o Esquilo” no AmadoraBD 2013, ambos os autores vão estar a dar autógrafos das 17 às 19 horas desse dia.
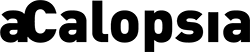




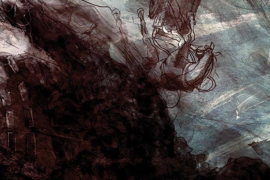

Chaka,Bom trabalho! É mesmo uma grande entrevista com um grande autor. David Soares está bem acima da mediania da generalidade dos argumentistas nacionais de bd e com todos os seus textos – e são mesmo TODOS – aprendo sempre algo de novo.
A entrevista era para ter uma terceira parte, mas ele não tinha tempo para mais…. vai ter de ficar para outro dia.
Li com interesse o excelente trabalho do entrevistador e as correspondentes respostas respostas do entrevistado. Se um foi arguto e eficaz no papel de quem quer saber, o outro foi pormenorizado, coerente e frontal, na óptica de quem quer responder, sem fugir às questões, sem reduzir as respostas ao habitual conjunto de monossílabos e frases feitas que se vêem frequentemente por aí.Posto isto, quero dizer que, se admirava o trabalho do David Soares – mais na vertente da BD do que na prosa, porque é a primeira que conheço melhor – ainda mais o admiro depois de ler a sua entrevista, com a qual concordo, tanto na ideologia do mester como na substância das suas convicções, de que é caso para enfatizar a sua liberdade de criação e parceria.Muito bem, um e outro.Se o David não se importar com a paráfrase, direi: “Palmas para o David”.Santos Costa